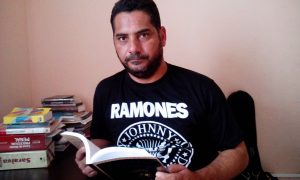Tag Archives: Luis Eduardo Goems do Nascimento
EGOLOGISMO HOJE
A Giuliani Fonrouge e a Luis Alberto Warat
Uma visão que radica no mais acendrado conservadorismo atribui ao direito uma função repressiva, olvidando a condição ontológica da experiência jurídica. O remontar à origem fenomenológica do direito, por uma redução eidética fundamental, não é mera questão terminológica ou discussão escolástica vazia, mas constitui um dispositivo teórico prenhe de consequências.
Como uma charrua ara a terra, um dispositivo abre a porta, um dispositivo teórico engaja um campo de conhecimento em inflexões que levam à ruptura epistemológica. Conforme assinalamos em obra recente, uma ruptura epistemológica ocorre quando, inserido nos eixos de um campo, revela-se algo não tematizado ou não desdobrado em suas consequências.[1]
A teoria Egológica do Direito, desenvolvida por Carlos Cossio, lança um novo dispositivo teórico e opera uma redução fenomenológica do direito. A redução, em Cossio, significa a ex-posição originária de um fenômeno em sua raiz lógico-ontológica. A teoria egológica, portanto, é uma lógica transcendental do direito e, especialmente, uma ontologia cultural do direito.
O projeto da ontologia moderna, de matriz heideggeriana, desoculta o campo do conhecimento para abrir o tema da existência, isto é, do ser-no-mundo do ser humano. Afirma Heidegger:
“Orientando-se por essa idéia, realizou-se a análise preparatória da cotidianidade mais imediata, chegando-se a uma primeira delimitação da cura. Esse fenômeno possibilitou uma apreensão nítida da existência e de suas remissões intrínsecas à facticidade e à decadência. A delimitação da estrutura da cura forneceu as bases para uma primeira distinção ontológica entre existência e realidade. Isso levou à seguinte tese: a substância do homem é a existência.”[2]
A existência tal qual se desvela em abertura à questão do ser não acontece de maneira descontextualizada. Dylthey insere o problema na dicotomia natureza e cultura,que servirá de base para discussões em inúmeros campos do conhecimento. O egologismo, na medida em que constitui uma metodologia fundada filosoficamente, radica na distinção natureza e cultura.
No diálogo com Kelsen, enunciou Cossio:
“Vida plenária, pois, em oposição à vida biológica. E vida plenária, portanto, como cultura; compreendendo em sua íntima unificação os dois aspectos da cultura: o que, como vida objetiva, consta dos produtos do fazer humano, subsistindo com autonomia ôntica em relação ao seu autor (objetos mundanais), e o que, como vida plenária vivente, consta dos quefazeres atualizados, inseparáveis de seu autor (objetos egológicos).” [3]
Os objetos culturais como objetivação da vida humana, então, distinguem pelo substrato e pela relação com o autor: 1) os objetos mundanais, cujo substrato é material e se emancipam do autor, assumindo vida cultura destacada; 2) os objetos egológicos, cujo substrato é a conduta e remanesce vinculados ao autor na medida em que o direito é co-existência.
Uma escultura, seja de madeira, seja de ferro, ganha existência autônoma e se torna objeto de contemplação turística, relíquia individual, ao mesmo que tempo que condensa sentidos a serem interpretados existencialmente pelo público dotado das condições sociais. Uma norma, mesmo se destacando da comunidade jurídica que a criou, mergulha em contextos de interação institucional que não são apenas complementares no sentido de que não há obra sem leitor, mas, sobretudo, porque o direito não se realiza automaticamente e depende da conduta. Em lição lapidar:
“ Quando os aviões alemães foram bombardear, em 1914, Paris, levaram a Vênus de Milo ao sótão do museu Louvre, coberta de areia, para protegê-la das bombas; e, da mesma forma, com todas relíquias do grande museu. Por que não se podia proteger da mesma forma o direito francês, que é também uma realidade cultural? A resposta é uma só: porque o direito francês estava na conduta dos franceses, em presença intransferível.”[4]
A teoria egológica, portanto, insere-se num contexto profundo da compreensão de que o direito não se realiza imediatamente na produção legislativa, como certa perspectiva estática da ontologia moderna possa sugerir.
Ao captar ontologicamente o direito como conduta co-existencial, não deixa de se pensar o direito de maneira normativa. São perspectivas que não se apartam, mas se complementam de maneira criativa, numa compreensão que podemos chamar de protonormativa.
O direito é liberdade fenomenológica, mas é norma jurídica. A norma jurídica não se confunde com a conduta. Há, portanto, uma diferença ontológica entre a norma jurídica e a realidade que é representada pela norma jurídica. A norma é conceito com que a comunidade pretensora pensa as condutas que pretende dirigir e governar.
Escreve Cossio:
“Para nós, o direito é vida humana plenária considerada desde certo ângulo, ou como temos dito sempre, é a conduta humana em interferência intersubjetiva. A norma, que é a significação expressada, é, simplesmente, a representação intelectual desta conduta como conduta. A norma é conceito que menciona a conduta mentada como quem esboça ou pré-esboça uma ação humana. A norma é um pensamento com o qual pensamos uma conduta, tal como os conceitos de triângulo e sol são pensamentos com os geômetras e o astrônomo pensam seu objeto sem a crença de que tais conceitos tem a quantidade de ângulos ou a temperatura que correspondem aos objetos e somente a eles. Assim, a norma que representa a conduta não tem, por exemplo, a temporalidade desta’’[5]
A norma, fruto da abstração formal da lógica, estrutura-se em atributos abstratos, arrancados da experiência, e, voltados à experiência, tem por referência semântica determinadas condutas que acontecem em contexto cujas particularidades são sempre abertas.
Não se afirma, de forma imprudente, que o direito não alcança a realidade, mas que a complexidade do contexto em que a conduta acontece sempre apresenta aspectos não previstos pela norma enquanto esquema conceitual. De outro lado, o esquema normativo, marcado por certos atributos, tem a possibilidade de normatizar. A aplicação do direito se torna segura, pois, o acontecimento fático, previsto, antecipada e abstratamente, convola-se com o esquema abstrato. Muito embora não se confunda com os símiles abstratos, a conduta fática é classificável e suscetível de qualificação jurídica.
O direito enquanto norma- juízo disjuntivo- encontra-se no plano lógico, dotado de generalidade. A conduta normatizada está no plano da experiência social, no campo da intersubjetividade, em plenitude das circunstâncias que a contingência elabora. Neste acontecer fático vigora a individualidade fática. A aplicação do direito, portanto, é lógica da individuação.
Kelsen, ao refutar o egologismo, dizia que a conduta só interessa ao direito enquanto regulada por uma norma jurídica. Dessa maneira, o objeto da ciência seria a norma e não a conduta humana. Na verdade, Kelsen aborda um aspecto da questão. Se o direito é objeto cultural, dotado de um substrato- a conduta em co-existência- e de um sentido- a significação normada-, interessa ao direito, no plano da experiência da aplicação, a dialética entre a conduta mentada e a significação normativa que se adjudica.
A interpretação e aplicação do direito transitam, dialeticamente, da norma à conduta, do substrato ao significado, até se atingir a solução que corresponde aquilo que Aristóteles chama prudência: isto é, a incidência rigorosa de um padrão, artisticamente.
O direito é uma arte. E é, em Aristóteles, uma forma de governo.
Por: Luís Eduardo Gomes do Nascimento, Advogado e Professor da UNEB.
[1] Ver: NASCIMENTO, Luis Eduardo Gomes do. Marxismo, Arqui-Espaço, Agrimensuras Críticas. Curitiba: CRV, 2024.
[2] HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Petropólis: Editora Vozes, 2006, pág. 327. O conceito de cura (sorge) e cuidado, longe de ser o cuidado no sentido comum, como erroneamente propaga Leonardo Boff, tem que ver com a disposição originária do ente humano ao sentido do Ser enquanto Ser.
[3] COSSIO, Carlos; KELSEN, Hans. Problemas escogidos de la teoria pura del derecho: teoria egologica y teoria pura / Kelsen-Cossio. Imprenta: Buenos Aires, G. Kraft, 1952, pág.107.
[4] COSSIO, Carlos; KELSEN, Hans. Problemas escogidos de la teoria pura del derecho: teoria egologica y teoria pura / Kelsen-Cossio. Imprenta: Buenos Aires, G. Kraft, 1952.
[5] COSSIO, Carlos. La teoria egológica del derecho y el concepto jurídico de libertad. Buenos Aires: Editorial Losada, 1944.
POR UMA HERMENÊUTICA DA PARTICIPAÇÃO PARENTÉTICA
“No direito moderno, os burgueses são forçados a dar à lei uma expressão geral” Karl Marx
O ser humano é ser-em-situação, isto é, um ser que assume um conjunto de hábitos necessários à orientação diante da vida, do ser, do outro, e, mormente, diante da formação social de que faz parte.
A hermenêutica, na linha de Gadamer, traduz a relação de ser-em-situação no conceito de pertencimento à tradição. A tradição se revela como uma comunidade histórica de preconceitos, que sedimenta uma estrutura pré-temática que norteia o modo de pensar e agir humano.
A tradição histórica, então, enquanto horizonte, oriundo do passado, que condiciona o viver social. O pertencimento à tradição leva à ideia de pré-compreensão na medida mesma em que nenhum entendimento se produz sem pressuposições, sem visão prévia.
Afirma Gadamer:
“Desse modo, o sentido da pertença, isto é, o momento da tradição no comportamento histórico-hermenêutico, realiza-se através da comunidade de preconceitos fundamentais e sustentadores. A hermenêutica tem de partir do fato de quem quer compreender um texto está vinculado com a coisa em questão que se expressa na transmissão e que tem ou alcança uma determinada conexão com a tradição a partir da qual a transmissão fala. Por outro lado, a consciência hermenêutica sabe que não pode estar vinculada à coisa em questão, ao modo de uma unidade inquestionável e natural, como se dá na continuidade ininterrupta de uma tradição.”[1]
Nenhuma tradição é unívoca ao ponto de impor, monoliticamente, os sentidos aos que interpretam. Todo texto, independentemente da tradição a que está adstrito, abre um campo aberto, onde há espaço de decisão, embora limitado ao quadro de equivalências. Parafraseando Carnelutti, decidir é decidir-se. Na hermenêutica moderna, decidir-se na compreensão das recepções adstritas ao quadro analógico do texto.[2]
A sociologia, por sua vez, também enfatizou o ser-em-situação, mas numa perspectiva diversa, apresentando vários vetores:
- o modo-de-produção, isto é, a maneira com que se organizam os fatores de produção;
- a divisão de classes e seu reflexo no lugar de produção e de poder que as pessoas ocupam;
- a grave questão das organizações administrativas, públicas e privadas;
- as formas de distinção social, relativas ao acesso a bens materiais e simbólicos;
- os valores que se projetam pelos meios de comunicação;
- os horizontes teóricos que se espargem pelos aparelhos ideológicos;
Para Guerreiro Ramos, todas essas questões esbarram no tema das organizações. Afirma o fundador da sociologia crítica:
“Organização é aspecto da vida social e individual cuja relevância só recentemente vem sendo assinalada. No entanto, dificilmente se compreende o essencial da vida coletiva, caso se descure do seu aspecto organizacional. A organização é o segredo da servidão humana. É para os seres humanos o que a espécie é para os animais inferiores. Uniformiza as condutas, subordinando-as mecânica e dogmaticamente, reduz e anula até a liberdade. A descoberta e o estudos dos efeitos da organização sobre a vida humana estão destinados a ter importância idêntica à que tem conhecimento sistemático do inconsciente. A compreensão do inconsciente caracteriza a conduta superior. Do mesmo modo, a compreensão da organização libera a existência humana de grande parte de suas servidões.’’[3]
No caso do direito, dois enclaves são fundamentais: 1) a função do ensino jurídico; 2) o modo com que se realiza a prática jurídica;
O ensino jurídico, hoje, corre dois riscos: o da superficialidade e do comércio de mistérios que ofusca e sobrepuja o necessário estudo das categorias teóricas e práticas do direito, filosoficamente fundadas. Na verdade, são complementares na medida em que, para fugir, ilusoriamente, da superficialidade, criam-se círculos com fumos de intelectualidade, mas desprovidos do mínimo de rigor lógico, com enunciados que não conseguem articular o menor significado.
Relevante a questão da relação sujeito e objeto, a qual é de grande atualidade e merece interpretação correta não em termos de superação, mas de inserção adequada do tema (enjeu).
Escreve Emerich Coreth:
“Aqui se patenteia um estreito entrelaçamento de sujeito e objeto. De fato, o sujeito só é este sujeito concreto enquanto codeterminado pelo mundo de seus objetos; porém, só é este objeto concreto na medida em que se abre pelo modo de ver, questionamento e apreensão de sentido por parte do sujeito.”[4]
Nem o sujeito nem o objeto, em sendo originários das condições históricas e das condições sociais, são determinados abstratamente. Sobre o sujeito e na construção do objeto pesam não apenas as determinações do passado, mas o modo do influxo das organizações na relação com o tempo e o espaço, a construção do sentido e, mormente, o modo que as objetivações da individualidade, em seus fluxos e enclaves, são forjadas no âmbito social-histórico presente.
Afirma Karl Marx:
“A perspectiva da doutrina materialista, na qual os homens são produtos das circunstâncias e da educação e, por corolário, são produtos de outras circunstâncias e de uma educação modificada, esquece que são precisamente os homens que transformam as circunstâncias e que o educador mesmo precisa ser educado. É porque tende a dividir a sociedade em duas partes em que uma se sobreleva a outra (por exemplo, em Robert Owen).
A coincidência da mudança das circunstâncias e da atividade humana não podem ser compreendida racionalmente senão enquanto prática revolucionária.” [5]
As organizações são frutos da interação humana, voltada a produzir e alcançar os objetivos socialmente estabelecidos, mas, desenraizando-se das origens históricas, assumem feições heterônomas, impondo-se sobre as subjetividades.
No contexto do que denominamos sociedades fraturadas com conurbações transcendentes[6], em que não há tradição, as instituições coisificam-se em interesses de círculos e clãs e não são responsivas ao interesse coletivo, à vontade geral, e à eficácia da constituição.
As organizações públicas e privadas, na Antiguidade Clássica, eram projeção da Estadística, a qual estava vinculada, filosófica e politicamente, à agrimensura do espaço e à construção da política e da economia.
No Brasil, em que a Constituição, embora projete um estado de coisa, no sentido latino do termo, marcado pela produção e a criação artística, esbarra na ausência de Estadística, as conurbações transcendentes vivem parasitariamente da dívida pública, que compromete o futuro. Temos constituição, mas não temos Estadística[7]. Na América Latina, é tarefa primeva reinventar a Estadística.
Nesse contexto, as categorias centrais da história cultural da ciência jurídica e da hermenêutica filosófica e jurídica não são difundidas a contexto e de maneira aprofundada. O descortinar dos conceitos, no âmbito jurídico, abre frestas para que o trabalho dos juristas, teóricos e práticos, seja a cognição consciente do ordenamento e não a idiossincracia subjetiva dos sujeitos. [8]
A tarefa do saber jurídico é ambiguamente estipulada: de um lado, reproduz estereótipos que dificultam a compreensão do texto; de outro, em sendo criativo, pode abrir o horizonte em que a interpretação e aplicação do direito, na cognição adequada dos textos, façam valer o direito enquanto formação dos liames societários e os sentidos projetados pela comunidade política, detentora do poder de normatizar de maneira geral e abstrata.[9]
A participação, em Platão, é conferir sentido concreto e particular ao que se apresenta de forma universal. Na lógica jurídica, conferir concretude individual àquilo que, abstratamente, mediante predicados inseridos na hipótese normativa, vem previamente estabelecidos. Enfim, a difícil arte de interpretar e aplicar ao direito e preservar os sentidos coletivos. Interpretar e aplicar são, portanto, atitudes parentéticas, isto é, a elevação à consciência dos dados da realidade e o alcance de uma objetivação clara do que se apresenta como obra ou texto, engajando e ultrapassando a si. O jurista seria a comunidade em concreto. O espírito objetivo. Para citar Rudolf Stammler, o jurista como aquele que forja, na arte viva da exegese, o que a comunidade quer unificar.
Por: Luís Eduardo Gomes do Nascimento, Advogado e Professor da UNEB.
[1] GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. Petrópolis: Editora Vozes, 1999, pág. 442.
[2] Sobre o tema ver: NASCIMENTO, Luis Eduardo Gomes do. Do discurso retórico da legalidade à construção societária da legalidade. Curitiba: CRV Editora, 2024. No texto, inserimos de maneira originária, no campo do direito, a estética da recepção. A relação direito e literatura deve ser intrínseca e não extrínseca na forma trivial com que acontece no Brasil. Quando Dworkin aventava a hipótese estética, claramente, referia ao fato de que, na literatura, há mais teorias interpretativas do que no direito.
[3] RAMOS, Alberto Guerreiro. Mito e verdade da revolução brasileira. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1963, pág. 147.
[4] CORETH, Emerich. Questões fundamentais de hermenêuticas. São Paulo: EPUL, 1973, pág. 100.
[5] MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Études philosophiques. Paris: Editions sociales, 1951, pág. 62, tese III. Na edição da Ideologia Alemã, consta o texto de Friedrich Engels em que analisa o conceito de graça teológica em Feuerbach, onde está a gênese do existencialismo secularizado e a ideia de que a existência só se realiza pela unidade com o ser na graça.
[6] Sobre o desenvolvimento do conceito, ver: NASCIMENTO, Luis Eduardo Gomes do. Marxismo, Arqui-Espaço, Agrimensuras Críticas. Curitiba: CRV, 2024. Ver também o artigo publicado na Revista Empório do Direito sobre a violação sistemática do art. 37, inc. II, CRFB, e as consequências para a estrutura societária do trabalho e das organizações, num exemplo patente da inexistência de Estadística: https://emporiododireito.com.br/leitura/das-formas-de-assuncao-a-cargos-publicos-na-constituicao-de-1988. No tempo em que se esboçava, no Brasil, a Estadística, Guerreiro Ramos, afirmava que ‘’só uma situação econômica segura pode subtrair os funcionários a um servilismo obrigatório em relação aos dirigentes”. Ficam claras as razões do caos administrativo a que estamos submetidos.
[7] A ausência de Estadística mergulha as formações sociais no caos e na indeterminação, no vórtice em que os talentos possam naufragar e não se constituir a possibilidade do saber libertário. É um círculo vicioso que as nações do centro estimulam e fomentam.
[8] Um dos temas que emerge da biologia moderna é o do surgimento da consciência e da cognição como processo vital da existência em geral.
[9] Karl Marx, em bosquejo do texto ‘’Teses sobre Feuerbach’’, escreve: “No direito moderno, os burgueses são forçados a dar à lei uma expressão geral”. Alain Badiou diz que o livro a República tem sido, para ele, uma obsessão. No meu caso, marxista ortodoxo, as Teses sobre Feuerbach tem sido uma espécie de Gestalt, de algo que prepara e anuncia e produz. Não é à-toa que tenho, até então, uma centena de páginas sobre o livro de 2 páginas.
A APLICAÇÃO DA LÓGICA AO CAMPO JURÍDICO
“A teoria pura é uma teoria do direito positivo.” Hans Kelsen
Hans Kelsen pretendia conferir autenticidade à ciência jurídica, conferindo-lhe autonomia de maneira que, no campo instituído, prevalecesse os critérios científicos internos e não a invocação de enunciados advindos de outros campos do conhecimento.
Pretende, ao excluir enunciados de outras áreas, erigir um saber próprio e especializado, voltado, precipuamente, à compreensão do objeto da ciência jurídica. Portanto, aqui emerge um dualismo, não entrevisto na inteireza, entre a ciência jurídica- conjunto de enunciado, e o objeto jurídico- a ordem jurídica positiva.
À ciência jurídica cabe estudar o direito válido em determinado tempo e espaço. Kelsen estabelece um conjunto de demarcações: separa a ciência jurídica do jusnaturalismo, da política do direito; enfatiza a diferenças entre questões morais e questões jurídicas. As questões alinhadas não se confundem com metalinguagem ou a busca pela pureza abstrata da ciência jurídica, mas de estabelecer adequadamente o objeto da ciência jurídica.
Afirma Kelsen:
“A realidade jurídica, a existência específica do Direito, manifesta-se num fenômeno designado como positividade do direito. O objeto específico de uma ciência jurídica é o Direito positivo ou real, em contraposição a um Direito ideal, objetivo da política.[1]”
Nesse entrocamento, a questão da definição do objeto da ciência jurídica, qual seja do direito positivo, sobrepaira crucial. Trata-se de uma questão complexa, pois, a constituição de uma ciência, qualquer que seja, demanda a existência de um objeto que lhe seja próprio.
Carlos Cossio leciona:
“A Teoria pura do direito não se refere, pois, diretamente ao direito, senão à ciência do direito; dizendo de outra maneira, a teoria pura se refere ao direito enquanto este é objeto de conhecimento científico[2]’’
O enunciado foi objeto de desinterpretação, para usar um termo do próprio Cossio, na medida em que se atribui à teoria pura do direito um sentido de metalinguagem. Na verdade, a teoria pura não é metalinguagem, pois, entre a ciência jurídica e a ordem jurídica não há homologia linguística. Trata-se de um erro primário, propagado como novidade epistemológica.
Leciona Lourival Vilanova:
“Falar sobre o Direito como sistema importa numa colocação em nível de metassistema. Em nível da linguagem do direito positivo não é possível: o Direito não usa a linguagem para falar sobre ele mesmo, como linguagem. Se o fizesse, poria sua linguagem como objeto mencionado, acerca do qual discorria. Seria um discurso sobre o discurso, um discurso de nível superior ao discurso-objeto.”[3]
Não há homologia entre a linguagem do direito positivo, de natureza diretiva, e a linguagem descritiva, com pretensão científica. Entre a descrição enunciativa e o discurso-objeto há diferenças de natureza linguística: a ciência jurídica descreve as normas jurídicas, isto é, o objeto que lhe é próprio.
Embora a teoria pura do direito seja ciência jurídica, a sua constituição remete não a si mesma, mas, necessariamente, ao objeto que lhe é pertinente. Para Kelsen, a teoria pura do direito é uma teoria do direito positivo. Direito positivo é o direito válido numa comunidade política, isto é, o conjunto de normas criadas e produzidas pelos órgãos de produção e aplicação do direito.
A remissão à comunidade política correlaciona-se ao problema da unidade e da fundação da positividade. Não há que confundir positivismo e positividade. Positivismo é postura epistemológica que limita a ciência jurídica ao estudo do direito válido sem importações de critérios de outros campos do conhecimento. Positividade é a própria ordem jurídica enquanto manifestação política da comunidade.[4]
Kelsen estabelece inúmeras linhas de demarcação e, ao mesmo tempo, não deixa de debater aquilo que afasta do campo jurídico. Leciona:
“Abstrair da validade toda e qualquer norma de justiça, tanto da validade daquela que está em contradição com uma norma jurídica positiva como daquela que está em harmonia com uma norma jurídica positiva, ou seja, admitir que a validade de uma norma do direito positivo independe da validade de uma norma de justiça – o que significa que as duas normas não são consideradas como simultaneamente válidas- é justamente o princípio do positivismo jurídico’’[5]
A validade, então, é interna ao direito na medida em que o direito regula sua própria produção. A teoria autopoiética no sentido de que o direito cria a si mesmo numa circularidade autorreeflexiva já está em Kelsen.
A validade, pois, revela-se como critério que molda a autorreferência da ordem jurídica[6]. Demarca onde termina a política e onde inicia a ordem jurídica. A justiça, para Kelsen, não é tema irrelevante, mas, não integrando o âmbito da ciência jurídica, é objeto da teoria política do direito.
Na lição imarcescível de Lourival Vilanova:
“A validade é propriedade da forma lógica de relacionar, independente do conteúdo gramatical e conceptual das proposições constituintes. A validade independe da correção gramatical e da verdade empírica: há próprio da forma lógica’’ [7]
O objeto da ciência jurídica é a ordem jurídica positiva. Para apreensão da natureza do direito positivo, a dicotomia dever ser e ser é axial. Embora tenha afirmado que é um dado imediato da consciência, Kelsen explorou corretamente a dicotomia, a qual instaura um conjunto de corolários teoréticos[8].
Assertoa Kelsen:
“Ora, o conhecimento jurídico dirige-se a estas normas que possuem o caráter de normas jurídicas e conferem a determinados fatos o caráter de atos jurídicos (ou antijurídicos). Na verdade, o Direito, que constitui o objeto deste conhecimento, é uma ordem normativa da conduta humana, ou seja, um sistema de normas que regulam o comportamento humano. Com o termo ‘norma’ se quer significa que algo deve ser ou acontecer, especialmente que um homem se deve conduzir de determinada maneira. É este o sentido que possuem determinados atos humanos que intencionalmente se dirigem à conduta de outrem.” [9]
As normas jurídicas, enquanto manifestação do dever ser, são, portanto, atos de vontade. Integram a esfera humana do agir político-normativo. Inseridas no âmbito do deve ser, às normas jurídicas não se atribuem o predicado da verdade e da falsidade, mas sim da validade ou não validade. As normas em si não são verdadeiras nem falsas, mas valem ou não valem. A lógica formal tem incidência somente no campo da ciência jurídica cujos enunciados podem ser qualificados de verdadeiros ou falsos.
A lógica formal se aplicaria aos enunciados descritivos do direito e, na medida em que os enunciados descritivos da ciência jurídica se referem às normas jurídicas, linguagem prescritiva, de maneira indireta, a lógica incidiria no campo normativo do direito. O princípio da não-contradição incidiria diretamente no campo da ciência e, indiretamente, no campo da ordem jurídica: dois enunciados diferentes sobre a mesma norma, então, seriam contraditórios. É a posição de Kelsen[10].
De outro lado, Lourival Vilanova diferencia o sistema jurídico como sistema empírico e acaba admitindo a possibilidade de normas contraditórias e pertencentes ao mesmo sistema. Afirma:
“Assim sendo, nem a lei de não-contradição garante a consistência dos sistemas jurídicos positivos, nem a lei-de-terceiro-excluso garante a completude dos mesmos. É que os sistemas jurídicos são sistemas empíricos de normas de conduta, não sistemas de proposições cognoscentes da realidade. Resta tão-só a unidade, que é conferida pelo comum fundamento-validade de todas as normas.” [11]
Inserto nesse diálogo entre gigantes, inserimos um enclave teórico ao afirmar que o sistema jurídico não é um dado, pronto e acabado, mas um sistema de significados à espera de formalização no momento de interpretação e aplicação do direito, muito embora o quadro analógico exista na condição de base intransponível e incontornável.[12]
Por: Luís Eduardo Gomes do Nascimento, Advogado e Professor da UNEB.
[1] KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. São Paulo: Martins Fontes, 1988, prefácio.
[2] COSSIO, Carlos. La teoria egológica del derecho y el concepto jurídico de libertad. Buenos Aires: Editorial Losada, 1944, p. 170.
[3] VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. São Paulo: Noeses. 3. ed. 2005, p. 157-8.
[4] Para Kelsen, normativismo e positivismo são sinônimos.
[5] KELSEN, Hans. O problema da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 1988, p. 11.
[6] Sobre a importância da validade não apenas como critério epistemológico, mas também como categoria topográfica demarcadora do que é jurídico e do que não é jurídico, ver: NASCIMENTO, Luis Eduardo Gomes do. Do discurso retórico da legalidade à construção societária da legalidade. Curitiba: CRV Editora, 2024, p. 66 a 70.
[7] VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. São Paulo: Noeses. 3. ed. 2005, p. 46.
[8] Sobre um dos corolários da dicotomia ser e dever ser, ver : NASCIMENTO, Luis Eduardo Gomes do. Os quilombos como novos nomos da Terra: da forma-valor à forma-comunidade. Minas Gerais: Dialética, 2020, p. 34-5.
[9] KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes. 2000, p. 5.
[10] KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes. 2000, p. 228 a 232.
[11] Ob. Cit. P. 284.
[12] Ver:NASCIMENTO, Luis Eduardo Gomes do. Do discurso retórico da legalidade à construção societária da legalidade. Curitiba: CRV Editora, 2024, p. 65 a 86.
SOBRE PRESCRIÇÃO PENAL E PUNIBILIDADE
“O direito se define pelas regras da semiótica’’, Santiago Nino
Nas discussões dogmáticas sobre as categorias jurídicas centrais da teoria do delito, verifica-se que a discussão sobre a punibilidade foi olvidada e obumbrada por uma chusma de categorias que, envolta em mistérios feitos para diletantes de si mesmos, desarticulam o campo da dogmática penal para tornar confusa a interpretação e aplicação do direito penal.

Eros Grau afirma, erroneamente, que a intepretação e a aplicação do direito são a mesma coisa. Interpretar é retirar sentidos de um texto. Aplicar é interpretar diante de um conjunto fático que necessita ser formalizado e qualificado juridicamente. São momentos diferentes de uma mesma arte.
Afirma Kelsen:
“o direito a aplicar é uma moldura dentro da qual existem várias possibilidades de aplicação, pelo que é conforme ao Direito todo ato que se mantenha dentro deste quadro ou moldura, que preencha esta moldura em qualquer sentido possível”[1]
Ocorre que a qualificação jurídica depende do esquema normativo necessário e elementar à construção da jurisprudência ou do precedente.
A dogmática penal costuma definir o crime como fato típico, antijurídico e culpável. Desde Kelsen, na medida em que o ilícito é criação jurídica, resulta absurdo chamar um fato- que contraria ao conjunto de normas- de antijurídico. Nesse contexto, há decretar o fim da expressão antijurídico no direito penal.
A invocação da expressão injusto penal mais confunde do que esclarece. Analisando o conjunto, parte da dogmática penal afirma que o crime é fato típico, ilícito e culpável.
Eugenio Raul Zaffaroni e Pierangeli defendem o conceito de tipicidade conglobante. Assertoam:
“Isto nos indica que o juízo de tipicidade não é um mero juízo de tipicidade legal, mas que exige um outro passo, que é a comprovação da tipicidade conglobante, consistente na averiguação da proibição através da indagação do alcance proibitivo da norma, não considerada isoladamente, e sim conglobada na ordem normativa.” [2]
Norberto Bobbio, ao criticar a teoria inerente ao tema da completude do ordenamento referente à teoria do espaço vazio, afirma que: ” Parece que a teoria do espaço jurídico vazio nasce da falsa identificação do jurídico com o obrigatório’’[3]
Pensamos que a teoria conglobante fica prisioneira do modal proibido. O direito é um conjunto de proibições, obrigações, permissões e atribuições de competências.
O que se desvela essencial para o descortinar do horizonte necessário à visada adequada da questão é ver que a ordem jurídica, em seus mais variados níveis, não pode ser insulada na ideia de tipicidade conglobante. Primeiro: o direito se realiza de forma típica. Segundo, afirmar que uma forma de realização inerente a um fenômeno se expande a outros níveis é redundante; terceiro, aferir os níveis adjudicados pela dogmática penal ao fato criminoso como conglobante nada tem que ver com tipicidade; quarto, os níveis estabelecidos estão erroneamente estabelecidos; quinto: estando erroneamente estabelecidos, é preciso suprimir os errôneos e encartar o que podemos chamar, com base em Guerreiro Ramos, teoria protonormativa do delito.
Por enquanto, podemos ressaltar que é necessário incluir, na linha de Basileu Garcia, a punibilidade. O direito penal, ao final, é a supressão de uma faculdade natural, isto é, a liberdade de ir e vir, e deve ser cientificamente válido para coarctar o que, segundo a natureza das coisas, é atributo ineliminável do ser humano.
Incide sobre a questão examinada os institutos da prescrição e da decadência da pretensão punitiva, estatal ou não. O conceito de prescrição penal envolve a inércia do titular da pretensão punitiva e o transcurso do tempo, perecendo a pretensão.
Para Clóvis Bevilácqua a “prescrição é a perda da ação atribuída a um direito, e de toda a sua capacidade defensiva, em conseqüência do não-uso delas, durante um determinado espaço de tempo.”
A prescrição da pretensão punitiva está inserida no aspecto temporal que emoldura a norma jurídica penal. Na medida em que o aspecto temporal é quantitativo, há que verificar as homologias do domínio jurídico da punibilidade.
Sem adentrar nos méritos das peculiaridades da situação específica, realizando, de acordo com Lourival Vilanova, a formalização lógica, citemos excerto da sentença, que configura verdadeira jurisprudência, prolatada pela Ilustre magistrada Rafaele Curvelo Guedes dos Anjos, integrante dos quadros efetivos do Tribunal de Justiça da Bahia, a saber:
“Compulsando-se os autos, verifica-se que a pretensão punitiva do Estado está prescrita em relação aos delitos dos crimes contra a fauna (art. 29 da Lei 9.605/98), que tem pena abstrata de 06 meses a 01 ano, prescrevendo em 04 anos, e do crime de posse de droga para consumo (art. 28 da Lei 11.343/06), tendo em vista que a imposição e a execução das penas impostas aos usuários e dependentes de drogas, prescrevem em 02 (dois) anos, conforme art. 30 da Lei 11.343/06.
Em relação ao delito de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03), a pretensão punitiva do Estado está antecipadamente prescrita, vez que esse crime tem pena abstrata de 01 a 03 anos, prescrevendo em 08 anos. Todavia, dada às circunstâncias do caso e a primariedade técnica das partes rés, em caso de aplicação de pena, esta não seria superior a 02 (dois) anos. Para essa pena in concreto, a prescrição ocorreria em 04 (quatro) anos, na forma do art. 109, do CP.
Logo, considerando que entre a data do recebimento da denúncia e hoje passaram-se quase 06 anos e não houve outra causa interruptiva, verifica-se lamentavelmente a ocorrência da prescrição antecipada.
Não obstante à ausência de previsão legal e existência de argumentos contrários à aplicação do instituto, vê-se que a aplicabilidade da prescrição em perspectiva apoia-se no princípio da economia processual, da instrumentalidade das formas e da celeridade da justiça.”
A intepretação que se apresenta, ao romper os lugares comuns, revela que o tema da prescrição é intrínseco ao atributo da punibilidade, e, na lógica formal que transcorre a decisão, na medida em que diferencia corretamente os institutos incidentes, tem efeitos políticos libertários e mostra que a linguagem, ao transformar o real, pode transformar os espaços e ampliar a ampliar a liberdade[4]. Enfim, é uma jurisprudência que, na exegese adequada, na articulação correta da ponderação no sentido de Recaséns Siches, revela que o tempo da prescrição está encartado no predicado punibilidade enquanto característica central da conduta ilícita, e a liberdade de muitos já tarda.
Hoje, é uma questão de uso público da razão e, lembrando Pontes de Miranda, o homem é o que, porque sabe mais do que os outros animais, corrigir-se.[5]
[1] KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes. 2000.
[2] ZAFFARONI, Eugenio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro. 9. ed. rev. e atual. São Paulo (SP): Revista dos Tribunais, 2011.
[3] BOBBIO, Norberto. Teoria Geral do Delito. São Paulo: Martins Fontes, 2008, página 272.
[4] Sobre a importância da interpretação nas lutas pelos sentidos e pela liberdade., ver a obra: NASCIMENTO, Luis Eduardo Gomes do. Do discurso retórico da legalidade à construção societária da legalidade. Curitiba: CRV Editora, 2024, Ebook.
[5] MIRANDA, Pontes de. Tratado da Ação Rescisória: das sentenças e de outras decisões. Campinas: 1998.
A CRISE DO MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA E A QUESTÃO FULCRAL DAS FONTES CRIADORAS DE VALOR
Ao Camarada Stálin
Marx enuncia que uma formação social entra em crise quando o modo de produção não corresponde mais ao desenvolvimento das forças produtivas. No caso do modo de produção capitalista, o enunciado de Marx entra numa espécie de conurbação, pois, ainda que na sua gênese o capitalismo tenha desenvolvimento de forma inaugural e exponencial as forças produtivas, vemos, a olhos vistos, uma crise geral do conhecimento que se manifesta de forma plena no plano da crise da produção.
Fizemos a distinção, ainda em crisálida na teoria de Marx, entre valor e fontes criadoras de valor. Na medida em que a circulação de mercadorias não explica o surgimento do valor, Marx verbaliza que são duas as forças criadoras de valor: natureza e trabalho vivo. Em sendo Aristóteles uma das fontes axiais do pensamento dialético, podemos averbar que são seis as fontes criadoras de valor: natureza, trabalho vivo, ciência, tecnologia, técnica e arte.
Hoje, a crise se entronca na crise do pensamento científico e da ausência de tecnologias voltadas não só ao incremento da produção, mas à produção da produção. De forma clara: a repressão do pensamento engendrou uma crise da tecnologia e, por corolário, da produção. O que pesa sobre o modo de produção capitalista é que não produz mais.
Gramsci enuncia, de forma genial, que a tecnologia, mesmo que oriundas das injunções militares, acabavam por se destacar, expandindo-se para outras áreas, sobremodo, à produção. Por isso, em razão do descompasso preludiado, as grandes potências possuem o monopólio de tecnologias de espionagem e não as voltadas à produção. Digamos de forma clara: a crise do capitalismo é a crise da produção. E por qual razão? O baixo desenvolvimento científico, o qual se revela claramente na ênfase da lógica do prestígio. Em épocas de desenvolvimento científico, o conhecimento é operante e pragmático, isto é, voltado à resolução dos problemas que emergem da vida em coletividade e não show business.
Nesse sentido questão central foi esboçada por Alberto Guerreiro Ramos ao enunciar que todas as questões passam pela teoria das organizações e pela redução tecnológica.
A irracionalidade do capitalismo contemporâneo não resolve a questão. O fato de o capitalismo financeiro tentar se autonomizar em face da produção leva, claramente, à implosão do próprio sistema financeiro e demonstra mais claramente que a atual crise do capitalismo. Como reprimiu as forças produtivas não produz mais.
O problema do modo de produção capitalista é um problema de produção. Um modo de produção quando não mais produz não pode ser chamado de modo de produção. Por isso, sem ironia, podemos dizer que o capitalismo não é mais um modo de produção e coloca em risco a humanidade.
Por: Luís Eduardo Gomes do Nascimento, Advogado, Professor do Departamento de Ciência e Tecnologia, Campus |||, Juazeiro, Bahia, UNEB.
A ATUALIDADE DO GESTO ESTRUTURALISTA E O DECLÍNIO DO CAPITALISMO
“O desenvolvimento rápido da troca é a característica da época em que escreve Sismondi” Lenin
Às vezes, é salutar estabelecer um debate traçando um paralelo. O livro O estruturalismo e a miséria da razão de Carlos Nelson Coutinho padece de várias fraquezas teóricas. Subjaz ao livro a repetição acrítica de Lukács contra o então emergente estruturalismo. A ideia central é colocar a ontologia social de Lukacs contra a ênfase que, segundo o autor, o estruturalismo coloca nas questões epistemológicas, recaindo muitas vezes em um realismo ingênuo e metafísico. O autor refuta Saussure de forma hilária.
Para Saussure, a língua é forma e não substância. Para um olhar acurado, Saussure usa a palavra substância no sentido metafísico de um todo orgânico, unívoco. Nelson Coutinho, por sua vez, invoca alguns autores para defender que a língua é substância, conferindo ao termo um sentido diverso do enunciado por Saussure.
Ao autor brasileiro escapou o essencial: Saussure, ao enunciar corretamente que a língua é uma forma, adota o viês sincrônico, deixando de lado o diacrônico. É este o problema do estruturalismo que permaneceu incompleto: às interessantes e instigantes análises internas dos sistemas não se seguiram as análises históricas que pudessem explicar a transição das formas.
Na parte em que trata de Althusser a coisa piora. Os conceitos mais importantes de Althusser são deixados de lado talvez porque Nelson Coutinho não tinha muito conhecimento de psicanálise. A noção fecunda de causalidade metonímica e a reinvenção do conceito freudiano de sobredeterminação nem sequer são mencionados.
É um clichê dizer que Althusser tenha lido Marx desde o jargão estruturalista. Mas para além disso, pode-se verificar que entre Lukács e Louis Althusser existem mais pontos de encontros do que divergências. Na verdade, os conceitos de um se enriquece com o do outro sem incorrer em ecletismo, esta prótese retórica de quem se acostuma ao monolitismo.
Marx, sobretudo em O capital, trata as questões da forma de maneira muito similar ao estruturalismo. Não é novidade as aproximações entre as análises do signo em Saussure e a análise da forma-valor em Marx. Recentemente, Kojin Karatani confirmou a força desta analogia.
Enfim, não devemos subscrever acriticamente o que se produz em outras partes do mundo, mas também devemos encetar uma critica que, antes de tudo, possa compreender corretamente o que se critica.
Em 1953, uma cartilha polêmica já dizia da necessidade de superar a sociologia enlatada.
E o gesto genial de Karatani não tem sido a possibilidade de esboçar a grande lógica, mas, ao enunciar as inúmeras paralaxes do momento, entender a necessidade histórica do estruturalismo. Sentimo-nos familiares a este gesto.
São muitas confluências: a inserção do Estado e da Nação como elementos chaves da análise econômica, numa pequena discordância com Marx que se esclarece quando da análise diacrônica da questão; a compreensão das várias formas históricas do capitalismo ou a transição das formas dos modos de produção; um melhor ajustamento da questão do comunismo primitivo e do modo de produção asiático; a compreensão fundamental de que os modos de trocas e os modos de produção não são antíteses, mas desenham a necessidade de novos estudos e a própria releitura da obra de Marx para desvelar esse aspecto; a libertação da antropologia para compreensão das graves questões econômicas; a inserção, numa linha hegeliana mesmo inconsciente, do sistema ético junto aos sistemas de trocas; a compreensão das razões das crises cíclicas do capitalismo. O capitalismo reprime as contradições, mas hoje as contradições implodem o capitalismo. São pequenas observações sobre obra que me lembra Lenin falando sobre Engels: cada frase condensa uma tese. Em dois parágrafos, refuta Negri e Hardt para mostrar que, no núcleo do capitalismo, num lance teórico crucial para a adequada compreensão do presente, não é a multipolaridade que prevalece, mas a existência de várias formas de imperialismos que, num longo período de consenso, esbatem-se e debatem-se perdidos na contradições e implosões internas. A China esfacelada pelo chauvinismo incompetente e iletrado, a Rússia impotente e incapaz de retomar o legado da ciência operária que a tornou hegemônica em setores essenciais, os EUA em desintegração econômica e social interna e diante da implosão do sistema financeiro que encabeça e os emergentes em estado de crisálida.
E algo que podemos acrescentar é que, no capitalismo, os nacionalismos que prevalecem são identitários, isto é, de má-identidade. As hegemonias são identitárias. Hegel chama de má identidade aquela que não se abre às diferenças e estabelece o outro como inimigo. Sem esquecer que, na história, há o nacionalismo operário.
Trata-se do maior pensador da atualidade cuja obra abre caminhos novos, novos paradigmas, inclusive de leitura, e novos horizontes políticos e econômicos. É uma clivagem na filosofia para que o verdadeiro universal emerja na sua limpidez e força.
Enfim, podemos dizer, conforme disse a um jurista argentino em 2007, que o século XXI será o século do marxismo. O Capital, de Karl Marx, é o embrião indeclinável e ineliminável de várias ciências e, sobretudo, da economia política marxiana que ainda está por fazer. Marx elaborou as ferramentas conceituais essenciais, cabe-nos desenvolvê-las para que mais bem possa retinir o brilho inconteste da dialética.
Por: Luís Eduardo Gomes do Nascimento, Advogado, Professor do Departamento de Ciência e Tecnologia, Campus |||, Juazeiro, Bahia, UNEB.
O DILEMA DA PANDEMIA
No que concerne à pandemia, três ações são complementares e necessárias:
1) resolver o dilema do prisioneiro através do retorno à atividade econômica industrial e o controle sanitário dos vírus;
A suspensão da atividade econômica e o mero retorno da atividade econômica sem controle sanitário do vírus são variações falsas de um problema que deve abordado de maneira ampla.
“Marx, em carta a Kugelmann, mostra que o trabalho vivo é a fonte criadora de valor ao conjeturar sobre os efeitos de uma greve prolongada e indeterminada: o que aconteceria com um país se os trabalhadores em geral deixassem de laborar por um período de um ano? A nação pereceria, conclui Marx.”
2) para depois, encontrar o princípio da replicação do vírus, pois, dos estudos do materialismo dialético sobre o ser genérico e o estar em homeostase com a disposição desse ser, depreende-se a natureza monstruosa do coronavírus (retrovírus), o qual configura uma verdadeira bomba biológica na medida em que, avançando em proporção geométrica, destrói os mecanismos do ser genérico manter-se em vida. Já tínhamos destacado que nova variantes irão surgir.
e, no meio do torvelinho, 3) o risco no plano interno e externo, decorrente da totalidade numérica prevista pelo jogo de soma zero:
“Trata-se de um jogo de soma zero em que todas as escolhas, mesmo múltiplas, representam a mesma escolha de fundo: a da valorização do valor futuro da forma-dinheiro destacada da forma-mercadoria”
No plano interno, a desindustrialização e maior financeirização leva ao risco da falência; Na América Latina, muitos estão entregando as nações aos bancos internacionais.
No plano externo, as flutuações geram instabilidade para o sistema monetário e o risco de países sem parque industrial irem à falência.
O que caracteriza o capitalismo na fase monopolista é a exportações de capitais: o capital não tem pátria e, ao circular na sua forma autorreferente mediante exportação, busca a subjugação colonial dos povos. O livro Por Uma Renovação Marxista da Teoria da Dependência descreve essa tendência de forma completa e, ainda que de forma elíptica, indica caminhos de liberdade.
Todos os caminhos, sem a intervenção nacionalista-popular, levam ao controle das populações e a construção de hegemonias.
Por: Luís Eduardo Gomes do Nascimento, Advogado, Professor do Departamento de Ciência e Tecnologia, Campus |||, Juazeiro, Bahia, UNEB.
OS DESAFIOS DO MARXISMO NA AMÉRICA
Marx, pela influência do legado do idealismo alemão, não sucumbiu ao positivismo que hipostasia os fatos na medida em que os capta de forma desajuntada e propôs uma nova ciência (realizando o sonho de Vico).
As mistificações que pairam sobre Marx não decorrem somente do fracasso da apreensão de uma obra monumental que deve ser estudada linha a linha com rigor e profundo amor, mas do medo de que haja uma compreensão no nível cotidiano das reais relações do modo de produção capitalista.
Lukacs, um grande continuador, em Histoire et Conscience de Classe, mostra que a ciência burguesa fixa em coisas sólidas os efeitos das relações humanas em movimento. Apreender o movimento, ou para usar Hegel, o fundamento implica em mostrar como as antinomias e as contradições só são apreendidas quando se solicita a totalidade aberta.
Todo discurso ideológico, ao contrário do que se diz, não opera por lacunas. Ao revés, o discurso ideológico, ao reificar a realidade, precisa ocultar as lacunas; precisar produzir a conta-por-um para rechaçar a aparição que desestabiliza toda a estrutura.
A ideologia da técnica faz do saber econômico um lugar ínvio à lógica democrática que rechaça o argumento da autoridade ou da especialização reservada. Destina-se a economia aos reprodutores do capital, passando a ser o lugar de uma mística cujo acesso é exclusivo dos iniciados na linguagem mística, inacessível, teoricamente inconsistente, mas cheia de efeitos retóricos, produzindo o efeito de verossimilhança de um saber coerente e verdadeiro, apenas no efeito retórico.
A renovação marxista da teoria da dependência ainda está por fazer em seus níveis mais profundos. A América Latina, mesmo inserindo-se no capitalismo mundial integrado, teve experiências históricas cuja leitura sintomal colabora decisivamente para consolidação de modelos econômicos salutares e igualitários. E aqui não foram criações cerebrinas, mas experiências históricas de formações sociais, a exemplo do que ocorreu no Brasil, do período Vargas de 30 até 45, e na Argentina, no período de Juan Peron, nas décadas de 40 e 50, do século passado.
São tentativas de uma formação social adquirir autonomia que merecem um balanço histórico na linha althusseriana da leitura sintomal.
Getúlio Vargas desenvolveu a linha da industrialização com substituição de importações e trouxe muitas questões em termos de problematização da dependência. Juan Peron, por sua vez, tangenciou outra dimensão da questão.
Vale dizer que só por comodismo colocamos épocas históricas sob o signo dos mandatários do poder. Naquele momento, de muitas contradições, inclusive repressão política, foram as formações sociais no seu todo, incluídos a classe operária e os intelectuais orgânicos, que, na luta, fizeram avançar num processo dialético profundo. Não é fácil ser marxista.
Em 1964, o Brasil vivia uma intensa criatividade e efervescência política: a teoria da dependência e o pujante movimento operário. O Brasil entrava em uma crescente consciência de si mesmo impulsionada contra os arranjos estruturais da propriedade e do racismo. Foi esse movimento pujante que o golpe interrompeu e cujas reverberações ainda povoam o imaginário, as institucionalidade e o cotidiano hoje. Foi essa vulcânica aparição do novo vivo que foi interrompida. Nesse sentido, como dizia Marx, as gerações passadas oprimem os cérebros dos vivos como um pesadelo. Pesadelo que tentou conjurar os signos do novo que nos cabe captar e levar à frente com a luta pela ressurreição das lutas fracassadas em cujas fulgurações as lágrimas dos torturados nos interpelam. O Brasil reprimido em 1964 precisa ser reativado na nossa práxis.
Marx afirma:
“Um trabalhador, na usina de algodão, produz somente algodão? Não. Produz capital”
Se, entre mercadorias heterogêneas, não há como recortar um elemento comum a não ser o trabalho e, vincando a distinção entre a determinação do valor pelo salário e a determinação do valor pelo trabalho objetivado, a criação de valor tem por fonte primacial o trabalho. Adam Smith já salientava o trabalho como fonte da riqueza.
Tal descoberta, para além de qualquer sentimentalismo, constitui um marco científico indeclinável. E, considerando a heterogeneidade estrutural da América Latina, a renovação da teria da dependência ainda está no início. Os problemas emergentes da dependência e da busca das formações sociais adquirirem personalidade histórica permite ver os problemas econômicos de uma maneira diversa da economia burguesa e realizar uma torsão teórica inovadora.
Por: Luís Eduardo Gomes do Nascimento, Advogado, Professor do Departamento de Ciência e Tecnologia, Campus |||, Juazeiro, Bahia, UNEB.
A FARSA DO PLANO REAL
A Ruy Barbosa Oliveira, cuja vocação pública faz enorme falta
Os subscritores do plano real escreveram que: 1) a vinculação dos preços de mercadorias e serviços ao dólar teria efeito deflacionário; se não fosse trágico pelos efeitos deletérios que provoca nos interesses nacionais, seria risível a assertiva; 2) a diminuição e a desburocratização de impostos geraria concorrência entre as mercadorias e serviços importados em cotejo com os nacionais, tendo como fundo compartido o dólar, e, portanto, a diminuição dos preços de mercadorias e de serviços. Na verdade, desata a destruição da economia nacional e prejuízos incalculáveis aos setores exportadores e às trocas comerciais, ante a realidade cambiante da dinâmica internacional.
Na verdade, o plano real é uma farsa; uma forma ardil e artificiosa de, por meio de linha de menor resistência, combater a inflação à custa da economia popular e do achatamento, sutil e indisfarçável, do poder aquisitivo. É uma farsa para submeter o Brasil aos efeitos dominadores do dólar. O real não é existe. A moeda nacional, se seguirmos rigorosamente o marxismo ortodoxo, é o dólar.
Todos os governos que se alinharam ao plano real- o pior plano econômico da história do Brasil- são antinacionalistas e antipopulares. Na verdade, não temos burguesia nacional. Para citar Gunder Frank, na modernidade periférica, temos uma lumpemburguesia que, de forma explícita, sem qualquer pudor, subordina a economia aos interesses imperialistas dos bancos internacionais sob o domínio dos EUA.
O tal do plano real indexou a economia nacional de forma que, qualquer flutuação fronteiriça, provoca o aumento dos preços dos produtos de consumo básico, a desaceleração da atividade produtiva e prejuízos inestimáveis ao setor exportador, afetando, sobremaneira, a balança comercial, tornando a discussão sobre superávit sibilinas afirmações desprovidas de critério científico. Industrialização, economia nacional-popular e plano real são antíteses, insolúveis. Não deixa de ser irônico que o sintoma venha a público apresentar-se como solução. O plano real- que alguns se jactam de ter criado- é um plano inflacionário cujo efeito principal é a devastação da economia nacional e das relações comerciais da nação na medida em que se arrima num cenário mundial monolítico.
Na aurora da República, Rui Barbosa- jurista genial, mas de retórica empolada, criou o encilhamento, um plano econômico profundo de cunho nacional que foi boicotado pelo Império Britânico. Ah, eram tempos em que, mesmo na premência do mais cruel colonialismo, havia inteligências. O Brasil sempre está por nascer.
O plano real, na encruzilhada em que estamos metidos, cria, imediatamente, duas disjunções: a) a existente entre os setores exportadores e a aristocracia financeira, e b) a existente entre a submissão ao dólar e a necessidade imperiosa de trocas mercantis mais equilibradas de maneira que, nas oscilações do capitalismo mundial integrado, estamos a atingir a borda da falência.
A incompetência das classes dominantes, representadas por todo o espectro político, no Brasil, não cabe mais no orçamento. Uma nação cuja institucionalidade não é porosa à contradição e à crítica emperra de forma irremediável.
Por: Luís Eduardo Gomes do Nascimento, advogado, Professor da UNEB.
Ignota, no entanto brilha
Felina, na desconfiança
Pressentido tudo
No presságio dos pélagos
Em busca de algum signo
Que possa explicar
em breu
em chuva,
narinas e olhos
em fúria
em lâmina, cortando a superfície
para revolver a mina explosiva
abrolhos
Felina, na confiança felina
Sutil e densa
Sempre além
E assim, ela, brilha nela mesma
Quando é tudo
Desde que tudo exploda
Que tudo transcenda
Que tudo seja tudo
Que o bosque seja pássaro
Que a noite seja estrela
Que o rio seja água
Que no paladar a laranja
Lavre a voz adstringente
Lavre a voz luminosa
Lavre a voz na foz no fogo
nos vãos
em pleno dia
buscando a foz
A voz pela voz
Para esplender
Para ferir
Para sangrar.
Por: Luís Eduardo Gomes do Nascimento, Advogado e Professor da UNEB.