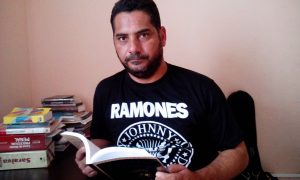Tag Archives: Cioran
Curso de corte e costura: kitsch sob medida
‘’Por querer trazer-te, filho,/ para a entranha do sorvete,/ para longe do real,/ para as páginas do azul,/ para as cores da linguagem,/ para os lábios do silêncio,// fiz-me pária dos apátridas,/ fiz-me algoz dos sem-vozes,/ fiz-me o ponto do final./ Fui-me.’’ (Nauro Machado, Poema)
 Cioran, filósofo romeno, ao esboçar traços sobre a genealogia do fanatismo, diz-nos que a necessidade que o homem tem de mitologia triunfa sobre a evidência e o ridículo. De imediato, tal se nos afigura bastante pertinente a este bosquejo de ensaio.
Cioran, filósofo romeno, ao esboçar traços sobre a genealogia do fanatismo, diz-nos que a necessidade que o homem tem de mitologia triunfa sobre a evidência e o ridículo. De imediato, tal se nos afigura bastante pertinente a este bosquejo de ensaio.
Há sempre um risco em falar do próprio tempo. Os que nos cercam, em polvorosa, veem a nossa quietude como disparate. Todos correndo e vocês – dois ou três – aí sentados, buscando palavras, revirando sintaxe? Não notaram que estamos todos, exceto vocês, salvando o mundo? Assim nos interrogam, esses novos templários.
Uma palavra: kitsch.
O silêncio lacera. Acutila a (falsa) harmonia que o estrépito nos presenteia, obriga-nos ao peso da clareza a propósito de nós mesmos. À leveza, no entanto, oratórios e templos. Tão mais aprazíveis – este, o imperativo – as alturas, os pés distantes do chão, as feridas longe do sal da terra. E tudo isso com barulho, estardalhaço, balbúrdia: anulados pela fala. E tudo isso com arrogância, falso Absoluto, erguendo um templo por dia.
Uma música: Kitsch Metropolitanus.
Deliberadamente, abdicamos, neste instante, da crítica com viés artística, engendrada pelo Belchior. Importa-nos relacioná-la ao contexto (reiterado) e às observações de Kundera, precisamente as contidas em A insustentável leveza do ser.
O kitsch é um ideal estético. Consoante Kundera, há um acordo categórico com o ser, o qual exsurge para negar a merda, incutindo-nos mesmo que ela inexiste. Bem por isso, o kitsch exclui de seu horizonte tudo que a existência humana tem de essencialmente inaceitável. Os grupos, mais do que ninguém, sabem de tal. Não só. Na verdade, aproveitam este instrumento em busca de visibilidade, prepotência etc. etc. Ato contínuo, possibilitam o psitacismo, provocam a repetição inconsciente – e triunfam. (Ora, sem psitacismo não há grupo.)
Este ideal estético, esclarece Kundera, ‘não se interessa pelo insólito, ele fala em imagem-chave, profundamente enraizadas na memória dos homens: a filha ingrata, o pai abandonado, os garotos correndo na grama, a pátria traída, a lembrança do primeiro amor’. Em sequência, orienta, reduz todas as possibilidades a apenas uma, os caminhos não mais se desdobram: vereda única. ‘O kitsch’, diz-nos o autor, ‘faz nascer, uma após outra, duas lágrimas de emoção. A primeira lágrima diz: como é bonito crianças correndo no gramado! A segunda lágrima diz: como é bonito ficar emocionado, junto com toda a humanidade, diante de crianças correndo no gramado!’.
Não obstante, os que integram os grupos, pelo gosto do auto-engano, preferem falar em autonomia, autenticidade – justo eles, que não as conhecem.
Cá, parece-nos acertado evocar (já era hora!) a composição do Belchior. ‘Que tal usar brilhantina?/ No país da vaselina’, pergunta o poeta. E calha muito bem aqui. Vaselina, ora, acabou se tornando gíria para designar indivíduo hábil no trato, que acomoda muitíssimo bem suas ideias aos interesses do momento. Algo parecido ao que disse Groucho Marx, comediante norte-americano: ‘Estes são os meus princípios. Se você não gosta deles, eu tenho outros’. Mas não é tudo. Além da vaselina, o adepto do kitsch metropolitanus necessita pavonear-se, evitar o olvido dos holofotes.
Imediatamente, entoa:
‘Que gente fina! gentinha…
Rainha em puxar tapete
Não posso entrar numa sala
Que eles vêm de cassetete
Kitsch metropolitanus
Essa moçada promete
Garotos clones mutantes
Com que gastar meu confete?’
Cá, a faceta totalitária do kitsch. Se eles vêm de cassetete, Belchior, tal se deve à possibilidade de ameaça. Tudo o que aterroriza o kitsch é banido da vida. Os grupos, distinguindo apenas um caminho, o da Verdade Suprema e inquestionável, afugentam qualquer discordância. Ora, já aqui se percebe, todo grupo, orientado pelo kitsch, não perdoa a individualidade de cada qual, extermina a liberdade particular, em nome de um todo que ele próprio não crê absolutamente. Falam em liberdade plena e, em passo contrário, edificam a figura do líder, boca que enunciará os desejos de todos (?). Ato contínuo, fazem do interesse particular (aprenderam com Ulpiano!) algo supostamente geral, homogêneo.
O kitsch, amigo Belchior, contorna imagem de látego.
De resto (o desfecho é sempre contumaz), importa-nos dizer que, ‘nenhum de nós é sobre-humano’, afirma Kundera, ‘a ponto de poder escapar completamente ao kitsch’. Necessário, ainda assim, conservarmos, em nós, o homem que interroga e não aceita facilmente o dito e repisado, verdades arranjadas às pressas. Este homem, afinal, por não abandonar incerteza e dúvida, é o único adversário do kitsch totalitário.
Breno S. Amorim
Agonizar sem doutrina
“Sob cada fórmula jaz um cadáver: o ser ou o objeto morrem sob o pretexto ao qual deram lugar.”(Cioran, Breviário de decomposição)
 Ao escrever “O mito de Sísifo”, em 1943, Camus foi criticado por Sartre. Tal crítica, como se sabe, denunciava a má compreensão de algumas lições filosóficas citadas no livro em questão. Para este último, Camus parece não ter compreendido bem Kierkegaard, Jaspers ou Heidegger.
Ao escrever “O mito de Sísifo”, em 1943, Camus foi criticado por Sartre. Tal crítica, como se sabe, denunciava a má compreensão de algumas lições filosóficas citadas no livro em questão. Para este último, Camus parece não ter compreendido bem Kierkegaard, Jaspers ou Heidegger.
O que escapava a Sartre, porém, é que Camus não se deixava fustigar por essas questões. Como relata Horacio González, em “Albert Camus: a libertinagem do sol” (1982:52-53), essa suposta “não compreensão” dos filósofos da existência ou dos fenomenólogos é decorrente da sua intenção de “literaturizá-los”, de fazê-los colaborar numa outra montagem comandada pela ideia de absurdo retirada de seu exercício da mediterraneidade.
A partir dessa celeuma entre os dois autores, pensemos a nossa academia. Com franqueza. Sabemos, aos que se arvoram à escrita, necessário determinada adaptação aos padrões estabelecidos. É dizer, ou se lê os anais acadêmicos – e os seguem, por óbvio -, ou a obra estará, “ab ovo” (latim, aqui, como ‘carícia acadêmica’), fadada ao insucesso. Isto, claro, dentro dos limites da própria academia. Também nós temos o nosso Índex – ainda que o civilista Caio Mário continue a nos dizer, mesmo depois de morto, que a história não se repete!
Cá, nesta nossa terra depressiva, os setores de pós-graduação ditam o que deve ser escrito e, ato contínuo, lido. Aqui, penso nos doutores universitários, sentados em suas salas climatizadas, em bloco separado do restante da universidade. Penso neles e em seus carimbos – no jogo mansueto e silente de apadrinhamento.
Em conversa com um professor, falávamos sobre um importante jurista nacional. Muito embora tenhamos certo respeito e admiração por tal, o professor Luis Eduardo, ao falar sobre a “dialética negativa”, disse-nos que o excelente Lyra Filho caiu no conto do vigário, ao achar que, em se tratando deste processo dialético, o fim deve ser, necessariamente, “bom”, “glorioso”, “feliz” – Warat, no entanto, ensinara-nos: o final feliz é mentiroso. Vejam, a ingenuidade ataca indiscriminadamente! Mesmo o Lyra Filho viu-se imerso nessa circunferência (acadêmica) que limita as possibilidades interpretativas. Para este, que vos escreve, esta interpretação (de Lyra), que recende a riso de criança, é produto de nossa academia, de seu caráter hermético, para ser mais preciso.
Enfim, qual Camus, é preciso, pois, usar a literatura como instrumento de dinamitação dos espaços resolutos e herméticos da academia. A literatura, dizia-nos o filósofo e literato, é filosofia por imagens. De tal modo, não devemos nos deixar aferrolhados pelas metáforas já bem pobres da universidade. Urge criar novas possibilidades interpretativas, estabelecer o “senso do fracasso”, prelecionado por Bachelard (1996:24), como princípio basilar – e dinamitar as definições fáceis e vetustas. Afinal, como sustenta Cioran, em seu “Breviário de decomposição” (1949:32), a definição é a mentira do espírito abstrato; a fórmula inspirada, (…): uma definição encontra-se sempre na origem de um templo; uma fórmula reúne inelutavelmente os fiéis. Assim começam todos os ensinamentos.
Breno S. Amorim